Para ler ouvindo1: Man’s World, por Marina.
✍️ Por Lis Welch
Escritora, editora e game designer. Nas horas vagas, tecelã de falácias, terrores e sobrevivências.
I.
Eu não leio homens.
Talvez isso te cause um certo incômodo. Mova o que estava acomodado para um ponto onde não mais se acomoda. Vísceras de um imaginário construído por décadas, centrado na figura viril de um ser musculoso — e quase sempre calvo2 —, retorcidas pelas minhas cruéis palavras.
Talvez isso te alivie. Abrace uma solidão imagética que resiste nas literaturas marginalizadas, nas histórias descontadas e nos mundos que viriam a ser, mas não foram. Uma forma de resistir ao constante banho de masculinismo da nossa arte — um respiro saber que, essa doida, como eu, não lê homens.
Mas, sim, eu não leio homens. Digo, quase não leio homens. Seria impossível, dado tanto referencial dito essencial produzido por essa massa de criaturas, eu não ler homens.
Faço questão de evidenciar: homens em seu conceito mais padrão possível. Não apenas o homem branco, cishétero e toda a sopa de letrinhas que já reconhecemos de longe pelo sapatênis e a barba desidratada. Aponto a todo homem que, em alguma instância, considera a sua masculinidade o início e o fim de todas as coisas.
Para tristeza geral da nação, não há apenas homens da sopa de letrinhas envolvidos nessa pataquada.
II.
Minha primeira memória com literatura remonta a Monteiro Lobato. A primeira com terror remonta a Lovecraft. Com fantasia, Tolkien. Com ficção científica, Asimov. Com distopias, Orwell. Com romance, Assis. Com poesia, Bilac. Com crônicas, Drummond de Andrade. Com não-ficção, Hawking. Com quadrinhos, Maurício. E tomo a liberdade de não me estender aos -punks para não tumultuar.
Cresci bombardeada pelo mundo-homem. O sujeito, o verbo e o predicado: homens. Explosões que perpassam as tripas do imaginário coletivo do nascer ao findar. A história única recontada e recontada com um teor de novidade de livro a livro para anunciar: “Veja só, não falamos das mesmas coisas... sempre!” — embora esteja ali o herói, a donzela e o monstro a ser destruído, dadas as suas devidas adaptações temáticas.
Em determinado ponto, cansei. Não aguentava mais homem falando sobre homem, como ser um homem com papos de homem, punhetando homem atrás de homem sem homoafetividade o suficiente. Matei a expectativa de homem que existia sobre mim junto do meu imaginário-homem. Li Lygia, Kaur, Clarice, Amara, Davis, Beauvoir, Nelida, Wittig, Conceição, hooks, Florbela, Meireles, Hilst, Chimamanda, Jarid... e nunca mais parei.
III.
A Iniciação Anti-Mundo-Homem se deu aos 13 anos de idade. Procurava alguma citação brega para postar no Facebook e fui atravessada por uma poesia. Conselhos para a mulher forte, da nicaraguense Gioconda Belli. Um trecho, em específico, mudou a química do meu cérebro:
Ampara, mas te ampara primeiro.
Guarda as distâncias.
Te constrói. Te cuida.
Entesoura teu poder.
O defenda.
O faça por você.
Te peço em nome de todas nós.
Nenhum texto havia me atingido tão profundamente quanto esse. Lia o que não ressoava comigo, em mim. O que, por mais que a alteridade permitisse o meu importar, não dizia nada sobre o Eu. Um Eu, até então, escondido a duras repressões masculinistas, lágrimas de perdão em nome de Deus e uma autofagia intimista.
Ali, resolvi me construir.
Agradeço à Gioconda e digo: te construa, também. Peço em nome de todes nós.
IV.
Semana retrasada, abri o Threads — erro fatal. De cara, vejo uma discussão, nos modelos mais neoliberais possíveis, surgir nas postagens de uma criadora a qual estimo muito: como algumas pessoas, queer, supostamente se negam a ler romances de amor3 heterossexual.
Sorri amargamente.
Bateu um constrangimento. Não por eu evitar romances heterossexuais — Cher4 me dibre de tal sofrimento —, mas por uma pessoa que eu admirava não entender as nuances do porquê, a juventude LGBTQIA+, não tem interesse em romances heterossexuais.
Veja, entendo toda a complexidade de referencial. Entendo, também, a importância de que ler o diferente é exercitar a alteridade. Entendo que a construção de um imaginário mais diverso reflete, na prática, um pensamento crítico mais complexo, uma visão de mundo mais abrangente.
A mim, incomoda o fato de que romances heterossexuais não são e nunca foram referências à margem. A heterossexualidade é um sistema de opressão estabelecido desde a Revolução Industrial — abraços, Wittig5 —, que se impõe como via normativa de existência do nascimento até a morte. Uma narrativa que abraça a lógica monogâmica como ordem natural da vida, exclui corporeidades abjetas e, o mais trágico, serve essencialmente à lógica capitalista — casar, parir, criar: mantenha as engrenagens da produtividade rodando, minha cara.
O reforço a uma heterossexualidade natural, como se fosse marcada no DNA humano, surge em doses paliativas ao longo da vida: o casal da novela gritando dramas; a comédia romântica com o galã de Hollywood; os setecentos e noventa e nove livros em que a mocinha termina com o herói — ou que a heróina termina com o mocinho; as brincadeiras, em forma de comentários, que adultos fazem entre você e coleguinhas de sala; a dinâmica tragicômica entre seu pai e sua mãe; as cores que você usa; os gostos que você cultiva; o curso em que você se forma; as palavras que você profere; a forma que você respira; como você grita, sorri, desfila. Não adianta fugir: a heterossexualidade está em tudo.
E, sendo ela onipresente, qual mal faz eu preferir ler Caio Fernando de Abreu a Cecelia Ahern?
Às vezes, negar-se a consumir uma imposição tão gritante quanto um homem e uma mulher se beijando ao pleno pôr-do-sol é, pasme, um ato de resistência.
V.
Muito se falou sobre “homoafetividade masculina” na bolhinha literária depois que, corajosamente, Vanessa Barbara expôs homens sendo homens em um episódio bombástico da Rádio Novelo, CPF na nota?.
Em forma de ensaio, Vanessa relata como um antigo relacionamento com um homem, sócio da Todavia e extremamente relevante no meio literário, foi banhado de machismo, manipulação e, em especial, cumplicidade masculina por parte de outros homens, também vistos com categórica importância no mercado.
Repudio.
Não apenas aos homens envolvidos, bem como à definição de uma suposta “homoafetividade” para explicar tais violências.
Destrincho.
O termo, cunhado por Marilyn Frye em 1983, carrega em si um quê de homofobia. O que homens cultivam entre si não é homoafetividade, não é amor, não é carinho. É cumplicidade, estruturada para manter os seus privilégios. O que homens menos têm por si é afeto. Competem para decretar o galo do pedaço e se matam em rinhas para conquistarem mais que os outros. Buscam virilidade, reforço à categoria de macho alpha, de dominante.
Corto.
Para piorar, a obra em questão, Políticas da Realidade, foi um dos expoentes do feminismo radical e de sua transfobia. Em seu texto, Frye cita mulheres trans como “homens tentando roubar espaços de mulheres, feminilizando-se para manterem em si o desejo constante pelo masculino”.
Transfobia.
Não vou me estender.
Há cansaço em minha escrita.
Na dúvida, use cumplicidade masculina. Serve bem, não ofende ninguém.
VI.
Desabafo.
Homens preferem acobertar homens em qualquer situação social. Ou, ao menos, relativizá-las. Fato. Não importa a desgraça cometida, o discurso sempre será o mesmo. Seja um mansplaining, uma traição, uma passada de mão, um beijo forçado, um nudes não solicitado, uma roçada infeliz, um aperto no braço, a troca de um boquete por um favor ou um estupro coletivo — filmado, postado e catalogado, com nome, data e local. Homens sempre são inocentes aos olhos de outros homens — ou não tão horríveis, uma vez que poderia ser com qualquer um deles. Culpam a biologia, as estruturalidades, a socialização masculina, a falta de uma professora para ensiná-los como viver em sociedade. Coitadinhos, não é como se tivessem todas as ferramentas do mundo para sentar a bunda na cadeira e ler uma Simone de Beauvoir. Mas não têm tempo, disponibilidade, base teórica o suficiente. O machismo é um problema de homens, contudo, não interessa a eles resolvê-lo: usufruem enquanto o patriarcado permanece em pé. Óbvio, há exceções e recortes. Sempre há. Falo daqueles que não são capazes de se colocar na posição de monstro. Daqueles que vivem a vida apontando aberrações, porém, se olham muito pouco no espelho. O que explica suas almas deploráveis — e não apenas. Falo também daqueles que se disfarçam. Performam progressismo, afirmam suporte, ditam-se aliados. Só querem te ver nua. Preparam o bote e esperam o momento certo para abocanhar: buceta ou pica femininas, não há meio-termo. São predadores sexuais, honrando a performance ao qual foram impostos desde crianças.
Já não tenho cabeça.
Melhorem.
VII.
Quanto aos incômodos:
Não leem mulheres cis. Não leem as monas trans. Nem os manos trans. Nem sapatonas. Nem viados. Nem pessoas com deficiência. Muito menos quem é racializado. Nem os nordestinos, os nortistas. Não-bináries sequer existem. Latinos, africanos, asiáticos? Esquecidos no churrasco.
O incômodo, entretanto, nasce na subversão: não leio o estabelecido.
Não leio homem.
Incomoda.
Que bom.
Estamos no caminho certo.
Incomode você também.
🎧 Vem me ouvir!
Essa semana estive no Leigos Intelectuais falando sobre travestilidade, criação artística e referencial — um papo bem semelhante ao texto de hoje. Se quiser ouvir minha voz e sentir o meu tom — que é mais ameno do que o dos textos — dá uma passadinha por lá.
🌻 Para se inspirar
stefano volp, um dos meus autores contemporâneos favoritos, escreveu um texto certeiro sobre as polêmicas misóginas mais recentes do mundinho literário.
Recebi um presente da querídissima Diana Passy: “Nevada”, da Imogen Binnie. Ficção trans escrita por uma autora trans: bordoada atrás de bordoada.
Falando em bordoada, finalizei “While We Wait Here”, um jogo narrativo sobre uma lanchonete, memórias e o fim do mundo. Recomendadíssimo.
Assisti “The Wild Robot”, da DreamWorks, e amei tanto que vai ter review para as Cigarras em breve.
Também vi “Flow”, produção independente da Letônia feito totalmente no Blender por um só indivíduo — quem entende de animação sabe o quão incrível isso é. Chorei horrores.
O texto mais recente da divônica Jana Bianchi lá no Fantástico Guia alugou um tríplex inteiro na minha cabecinha.
Para não perder a paixão pelo italiano, Laura Pausini voltou a liderar minhas músicas, especialmente por causa da sua apresentação com o Andrea Bocelli em 2007.
“Ruptura”, da Apple TV, retornou para sua segunda temporada e, se você ainda não assistiu, deveria.
Completamente surtada: tenho uma playlist com versões brasileiras de qualidade duvidosa de músicas estrangeiras – acredite, vale a pena.
🌺 Carta aberta
Passei a última semana em uma inércia movida pela minha ansiedade. Irônico, viu?
Lidar com redes sociais tem sido cada vez mais complexo em períodos de fim de mundo. Não o suficiente, estou no pior momento financeiro em alguns meses, com familiares pedindo apoio e eu mal conseguindo ter algo para comer — falei no Twitter e apaguei: passei dois dias desta semana sem nada para comer.
Nesses períodos, fazer arte é um inferno, uma enorme dificuldade. Antes de criar, preciso sobreviver. Tento prospectar clientes, procurar contatos, pedir ajuda — apesar da vergonha. Não quero voltar a me prostituir esse mês, não mesmo.
Recebo alguns “Temos interesse em trabalhar com você no futuro”. Legal, obrigada. Recebo outros “Tenho um projeto para você em breve”. Fico feliz, muito agradecida. Depois da felicidade, bate a realidade: talvez eu tenha segurança para o futuro, mas não para agora.
Não tá fácil.
Tento seguir firme, embora não seja lá tão possível. Essa semana fraquejei. Não consegui escrever a newsletter a tempo, nem preparar o Clube Metamorfoses, que provavelmente vai me ajudar financeiramente. Não escrevi as threads para o Twitter, não fotografei as postagens para o Instagram ou planejei minha presença no LinkedIn.
Estou frustrada. Triste. Chateada comigo por sentir que, mesmo fazendo muito, nunca faço o suficiente. Cansada de estar na posição de “a vulnerável”, sabe?
Na psicoterapia, conversamos sobre como sou excessivamente crítica comigo mesma. E como me cobro demais. Um fato. Contudo, eu não tenho escolha. No mínimo, não agora.
E isso, acima de tudo, machuca.
Agradeço se leu até aqui. Significa o mundo para mim.
Por aqui, sempre com travessuras e às vezes com lamentos,
A partir dessa edição, toda cantiga virá acompanhada de uma música para você ouvir enquanto lê. Todas as músicas indicadas vão ser salvas na playlist de o que cantam as cigarras semanalmente.
Nada contra, viu? Tenho até amigos que são.
Detesto a confusão comum entre o subgênero romance e o gênero literário romance de amor (ou romance romântico), embora seja uma diferenciação mais do que necessária.
Entreguei um pouco as interferências de mamãe nas minhas divas pops favoritas, né? Se você não conhece Cher, aclamada Deusa do Pop, você não sabe o que tá perdendo. Chega comigo e vem descobrir porque ela é tão importante para nós, queers e mulheres, na moda, na música e no cinema. Também não perde a chance de ouvir o maior hino da diva, Believe.
Às leitoras ávidas de estudos feministas e teoria queer, leiam O Pensamento Hétero e Outros Ensaios, da Monique Wittig. Obra essencial para compreender porque a heterossexualidade não é um mero rótulo de identidade, mas um sistema de opressão per si. Ainda vou falar mais sobre Wittig aqui.






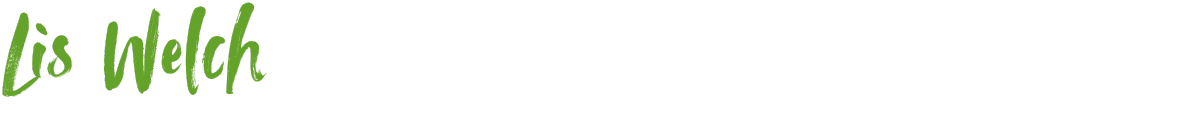
Estou nesse mesmo dilema, sem paciência alguma para ler algo que eu já tenho que conviver diariamente vendo ser disseminado e tratado como natural por todos os lugares.
À essa altura, consumir uma obra que não tem um quê de subversiva, disruptiva, transgressora já não é uma opção viável.
Texto maravilhoso Lis! Torcendo para que você consiga um trabalho por agora e consiga se sustentar até que se estabilize futuramente♡♡
Você não pode ver mas eu estou aqui em pé aplaudindo seu texto.